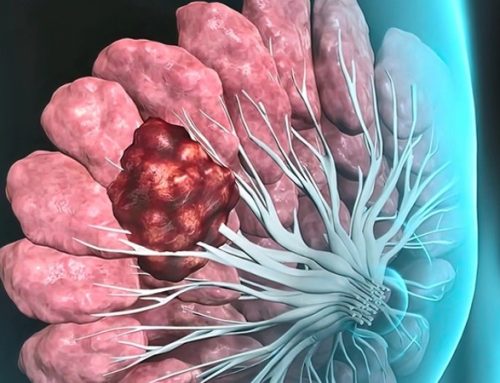Biológicos: “Mind The Gap”
Os médicos estão contra a possibilidade de o switch de medicamentos biológicos poder ser feito por farmacêuticos hospitalares. Em causa, apontam, está a falta de evidência que comprove a eficácia e segurança. Mas há mais críticas: Para os reumatologistas, o custo do fármaco não pode ser o fator determinante na decisão. “Somos contrários ao critério de escolha única e exclusivamente baseado no preço. Esta ingerência é inaceitável naquilo que é a prática clínica. O que temos de garantir é que o doente tem o tratamento adequado,” diz Luís Miranda, reumatologista do Instituto Português de Reumatologia
As vantagens, os inconvenientes e todas as implicações à volta dos medicamentos biossimilares de modo a otimizar a terapêutica através da sua monitorização, apostando na rastreabilidade e farmacovigilância da medicação, estiveram em destaque na discussão “Mind The Gap” inserida no segundo dia da Reunião de Atualizações em Biológicos e Biossimilares, promovida pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), no Hotel dos Templários, em Tomar.
Perante uma plateia maioritariamente composta por farmacêuticos hospitalares, a intervenção de Luís Miranda, Reumatologista no Instituto Português de Reumatologia foi a que causou mais agitação na sala. “Quando falamos em biológicos e em biossimilares não nos podemos esquecer do doente. E o doente tem questões que não podem ser ignoradas, como a da equidade, legalidade, acessibilidade, qualidade e a responsabilidade”, começou por apontar o especialista.
Reumatologistas dizem que faltam estudos
Num tom crítico, o reumatologista disse que “a troca automática [de um biológico por um biossimilar] não defende as melhores práticas de saúde e que é ética e clinicamente inaceitável”. “Não há evidências que permitam trocar os biológicos por biossimilares. Não podem considerar os biossimilares como considerámos os genéricos”, afirmou Luís Miranda, acrescentando que “existe evidência suficiente para considerar um switch apenas num infliximab, especificamente nesse. Extrapolar isto acho abusivo”, afirmou.

Luís Miranda, Reumatologista no Instituto Português de Reumatologia : “Naquilo que é o conhecimento atual, não acho que isto [switch] possa ser feito. Não há estudos relativamente a múltiplos switchs, os estudos que existem têm défices de estrutura”
Comentando as considerações colocadas por Luís Miranda, a Presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, Elsa Mateus, defendeu que “se não existe evidência, é preciso recolhê-la”. Uma opinião partilhada por Luís Miranda, que defendeu: “Naquilo que é o conhecimento atual, não acho que isto [switch] possa ser feito. Não há estudos relativamente a múltiplos switchs, os estudos que existem têm défices de estrutura. Isso não quer dizer que nós não possamos tentar pedir mais estudos”, defendeu.
Mas afinal, que poder de decisão tem o doente no processo de substituição de um biológico por um biossimilar? A conversa entre médico e paciente é decisiva, disse Elsa Mateus, para que o doente perceba “que os biossimilares são versões do medicamento original mas não são iguais”. “Será menos problemático para os doentes propor-lhes uma mudança, que será devidamente monitorizada. Isto para que os doentes também tenham segurança através da informação que é prestada”.
A importância do custo
O médico Luís Miranda deixou duras críticas à Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), órgão consultivo do Infarmed que emite pareceres e/ou recomendações sobre a utilização de medicamentos em Portugal. “Acho interessante que a CNFT não diga que o primeiro objetivo deve ser dar o melhor tratamento ao doente e diga apenas que deve ser dado o tratamento mais barato”, apontou o médico, numa referência direta a uma orientação da CNFT, emitida em fevereiro último, na qual se preconiza que “o início do tratamento deverá ser efetuado com o medicamento biossimilar ou biológico de referência com o menor custo para a instituição que o disponibiliza”, uma posição que mereceu um duro comentário por parte da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), onde se contestam as recomendações da CNFT, afirmando-se, ente outras reservas, a de que a prescrição por denominação comum internacional (DCI), por si só, sem nome comercial associado, não garante a rastreabilidade do biotecnológico e não permite ao médico prescritor (…) saber qual o fármaco que está a ser dispensado na farmácia”. No mesmo sentido, a posição do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória do Intestino (GEDII), que sustenta a sua posição em extensa bibliografia, defende que “num doente que inicia tratamento biológico, a escolha do fármaco deve basear-se em fatores relacionados com o indivíduo, com a doença e com o próprio fármaco, e não apenas em fatores económicos” acrescentando que o GEDII entende a orientação da CNFT como “uma ingerência inaceitável na prática clínica e uma forma de obrigar o doente a receber o fármaco mais barato (seja de referência ou biossimilar), mesmo que tenha indicação clínica para ser tratado com outro completamente diferente”.
Na sua posição, o GEDII salienta ainda que “o artigo de revisão citado como referência pela CNFT na elaboração da sua orientação não gera melhor evidência, pelo contrário, sublinha que o “switching should remain a case-by-case clinical decision made by the physicianand patienton na individual basis supported by scientific evidence”, salientando a necessidade de se realizarem estudos de diferentes modalidades de “switch” incluindo estudos de “interchangeability”com melhor qualidade que os estudos observacionais existentes”.
O mais barato como critério único?
Os medicamentos biológicos são, em geral, dispendiosos. O aparecimento dos biossimilares, que têm custos inferiores, veio permitir a democratização do uso deste tipo de medicamentos, alargando o acesso a um maior número de doentes e aliviando os custos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No entanto, para Luís Miranda, o custo do fármaco não pode ser o fator determinante na decisão. “Somos contrários ao critério de escolha única e exclusivamente baseado no preço. Esta ingerência é inaceitável naquilo que é a prática clínica. O que temos de garantir é que o doente tem o tratamento adequado.”

Daniela Maia, Administradora Hospitalar: “Todos os dias fazemos opções. Todos os dias temos consciência de que o orçamento é insuficiente para dar o melhor a todos”
Foi precisamente em torno do crónico problema da suborçamentação do SNS, e das dificuldades com que se deparam todos os dias as administrações dos hospitais para gerir o dinheiro disponível, que se centrou a administradora hospitalar Daniela Maia. “Todos os dias fazemos opções. Todos os dias temos consciência de que o orçamento é insuficiente para dar o melhor a todos. Tem, contudo, de haver um mínimo de equidade para com todos os doentes que precisem. É verdade que o acesso à saúde é um direito universal mas se eu tiver de comprar um dispositivo “life saving”, e se ele custar 25 mil euros e for um artigo novo, o meu conselho de administração vai ter se pronunciar sobre a entrada daquele produto no hospital. E o doente pode morrer se não o adquirirmos”, afirmou a administradora do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho.
Farmacêuticos reclamam mais comunicação
Preferindo um tom mais conciliador, a Presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares apelou a uma comunicação mais frequente e eficaz entre médicos e farmacêuticos. “A comunicação tem de ser a base para garantir que o doente não anda de um lado para o outro no sistema por causa das incertezas dos profissionais de saúde. Temos de criar canais de comunicação”, defendeu Catarina Oliveira. “Vamos tentar sinalizar, com a ajuda dos clínicos, quais são os doentes que podem beneficiar com a utilização de biossimilares. Agora, antes de fazermos o “switch”, temos de pedir os testes de imunogenicidade para depois não virmos culpar outro biológico ou outro biossimilar”.

Catarina Oliveira, Presidente da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos Hospitalares: “Vamos tentar sinalizar, com a ajuda dos clínicos, quais são os doentes que podem beneficiar com a utilização de biossimilares”
Por esta altura, a farmacêutica Catarina Oliveira também já tinha respondido ao médico Luís Miranda, afirmando que “as CFT têm, em paridade, médicos e farmacêuticos” e que não é possível integrar clínicos de todas as especialidades nestas instituições.
A discussão sobre a autonomia dos farmacêuticos para decidirem se um determinado medicamento deve ser ou não ser atribuído a um doente – mesmo depois da autorização dada pelo médico – foi introduzida pelo reumatologista Luís Miranda. “Qual é a capacidade técnica de uma comissão de farmácia e terapêutica para não aceitar uma justificação de um especialista?”. Catarina Oliveira não respondeu mas já no final do debate, quando o tempo escasseava, o farmacêutico António Bigotte Santos, que estava na plateia, pediu a palavra para dizer que “a reumatologia não é uma ciência esotérica que faça parte só dos conhecimentos do reumatologista” e que “os farmacêuticos são profissionais plenamente habilitados para perceber a justificação do reumatologista e a decidir se concordam ou não”.
A farmacovigilância tem de ser a base de qualquer sistema de saúde
Já antes, na sua intervenção, a Professora Conceição Portela criticara a falta de notificações de reações adversas por parte dos profissionais de saúde. Conceição Portela, CEO da Focus on Evolution, defendeu que a ideia que estes têm é a de que “o doente teve uma reação adversa, não por causa do medicamento, mas porque este foi mal administrado, mal prescrito”. Assim, “deveria haver um enquadramento jurídico e um entendimento que permita clarificar que estas notificações não são punitivas, não são reações que surjam na sequência de uma má prática clinica”.

Prof. Doutora Conceição Portela- CEO da Focus on Evolution: “Deveria haver um enquadramento jurídico e um entendimento que permita clarificar que estas notificações [de reações adversas] não são punitivas, não são reações que surjam na sequência de uma má prática clinica”
Quem tem a última palavra acerca da qualidade de um biossimilar?
Se foi consensual, no debate, a ideia de que a farmacovigilância é absolutamente essencial para garantir a segurança dos doentes, ficou patente uma divergência quanto à forma de garantir a qualidade dos fármacos biossimilares: a avaliação da Agência Europeia do Medicamente (EMA) e do Infarmed é suficiente para considerar o medicamento seguro? Conceição Portela acha que não. “Há riscos por identificar depois de ter sido concedida a AIM [Autorização de Introdução no Mercado]. A complexidade estrutural pode estar associada à incerteza no perfil de segurança e de qualidade; as reações adversas também podem ser específicas de um determinado lote. Portanto, há aqui desafios específicos que surgem”.
A questão da responsabilidade jurídica
A Professora de Direito Claúdia Monge, que também integrou o painel de debate, defendeu que “a questão das reações adversas é um problema de saúde pública”. “Tenho vindo a sustentar a ideia de extensão do campo de ilicitude, ou seja, quando se deve tomar o ‘dever de cuidado’ e não se toma, essa omissão deve constituir um facto ilícito”.
Contudo, a docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ressalvou que alguma da responsabilidade também deve pender para o lado do doente. “Deve haver um maior envolvimento dos doentes e também uma maior responsabilização. Porque se o doente souber que, naquele caso concreto, a eficácia do biossimilar é correspondente ao medicamento biológico de referência, a perspetiva do doente será favorável”, disse Claúdia Monge, acrescentando, ainda assim, que “em casos de especial danosidade, deveríamos ter mecanismos de responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da culpa, ser atribuída uma indemnização aos doentes”.
Noutros países, segundo Cláudia Monge, já foi criada a figura do medidor de saúde, que “não é o correspondente ao provedor do utente mas, isso sim, um mediador que procura sanar conflitos entre os doentes e a instituição e entre os próprios profissionais”.

Prof. Doutora Cláudia Monge, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: “Tenho vindo a sustentar a ideia de extensão do campo de ilicitude, ou seja, quando se deve tomar o ‘dever de cuidado’ e não se toma, essa omissão deve constituir um facto ilícito”.
O dilema da responsabilidade criminal
Na sua intervenção Luís Miranda apontou várias iniquidades ao sistema de prescrição, acusando cada hospital de se comportar como “um pequeno SNS, com regras próprias sem critério global e com vários obstáculos burocráticos”. Disse também que “a legislação é ambígua e potencialmente contraditória” e que “não há equidade, já que existem diferenças entre especialidades, entre doentes, entre doenças, entre hospitais”. Ainda em registo crítico, Luís Miranda apontou aquilo a que chamou “os jogos de preços”, que diz serem mal compreendidos pelos clínicos. E, por fim, em alusão às possíveis reações adversas que um medicamento biossimilar pode provocar no doente, o reumatologista defendeu que é preciso “começar a equacionar a responsabilidade legal e criminal” associada. “Se eu prescrevo, eu sou responsável, mas se alguém altera a minha prescrição, sem o meu conhecimento, a responsabilidade não é minha.”

Simpósio “Mind The Gap”, inserido no segundo dia da Reunião de Atualizações em Biológicos e Biossimilares, promovida pela Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), decorreu no Hotel dos Templários, em Tomar.