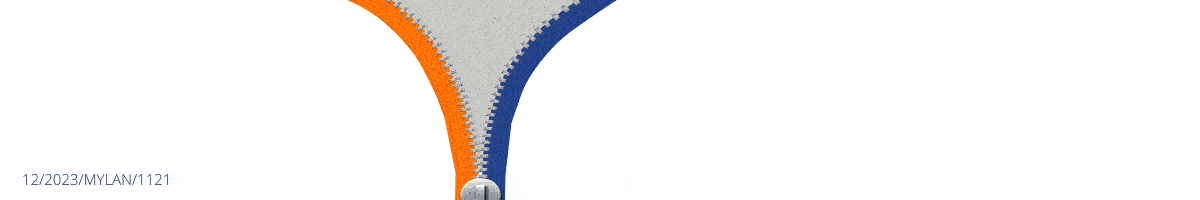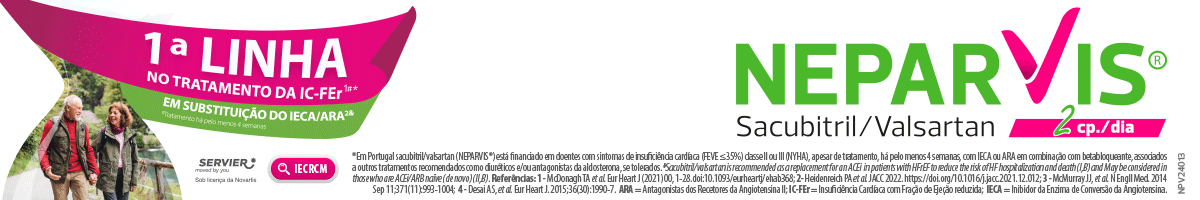VIH/SIDA. “É preciso criar um plano de ação para diminuir o estigma”
O estigma persiste. Muitos de trabalho contratos não são renovados a pessoas com VIH, diz, em entrevista, Ricardo Fernandes, diretor-executivo do Grupo de Ativistas em Tratamento.
Depois de tantas campanhas de informação, ainda se sente o estigma para com os doentes com VIH?
O estigma é das coisas mais presentes em relação a esta doença. Se pensarmos bem, as campanhas que tem existido foram todas com foco na prevenção e não tanto do estigma. Tem havido muito pouco investimento das autoridades na questão da discriminação. É natural que muitas pessoas continuem a estar mal informadas.
Em que é que se isso se reflete no dia a dia dessas pessoas?
Foi feito um estudo em Portugal, chamado StigmaIndex, e o que sabíamos na altura era que as pessoas se sentiam muito discriminadas no acesso a serviços de saúde, em escolas, no trabalho e até no seio familiar. Esta última é a mais complicada, não está regulada legalmente. Ninguém pode iniciar um processo legal contra um pai ou uma mãe que discriminem um familiar.
Por exemplo, em contexto laboral, o estigma continua muito presente?
Sim, nós sabemos a quantidade de doentes que é dispensada por ter VIH. Os contratos acabem e não são renovados. Nestes casos, torna-se muito difícil provar que a não renovação está ligada ao VIH.
Que papel tem o GAT no apoio a estas pessoas?
Temos o único centro de não discriminação em Portugal, onde ouvimos as pessoas, damos respostas do ponto de vista jurídico. Fazemos também um trabalho a nível nacional para alterar a legislação, para evitar estas situações. Ainda no ano passado, impugnámos um concurso para a contratação de guardas florestais, que proibia a contratação de pessoas com VIH. O concurso foi alterado e acabou por ser lançado com as condições corretas para que toda a gente pudesse concorrer.
O que as entidades públicas poderiam fazer para combater o estigma?
Primeiro, investir mais em programas que permitam que as pessoas se sentam bem, permitindo-lhes revelar o seu estatuto. Depois, são necessárias algumas alterações legislativas que permitam que as pessoas se possam defender melhor no trabalho, porque continuam a existir muitos subterfúgios.
Mas, sobretudo, é preciso criar um plano de ação para diminuir o estigma. A SIDA é uma doença que se tem vindo a tornar crónica, o que lhe retirou o foco nos últimos anos. No entanto, é uma doença que ainda mata. Muitas pessoas não chegam aos cuidados de saúde porque não se testam antecipadamente. No entanto, continuamos a ser o terceiro país com mais novos casos na Europa.
Portugal atingiu, em 2018, os três noventas (90% dos doentes diagnosticados, 90% dessas estarem em tratamento e dessas 90% estarem com o vírus indetetável). Acredita no cumprimento da meta dos 95-95-95 em 2030?
Os 10% que faltam são os mais difíceis de atingir. São aqueles que não conseguimos alcançar com as estratégias que desenvolvemos até hoje. É necessária uma distribuição mais abrangente de materiais de proteção, uma informação mais dirigida às populações mais atingidas (e não campanhas generalistas), a disponibilização da profilaxia pré-exposição (PrEP) que só começou a ser implementada este ano e que está longe de chegar aos níveis que permitiram ter impacto no número de novas infeções (estão entre 1000 e 1500 pessoas a fazer PrEP quando precisaríamos de ter entre 10 a 15 mil pessoas). O acesso às consultas não é fácil, temos de as descentralizar para a comunidade.
Não estamos a descobrir a pólvora. As estratégias de combate ao VIH já estão delineadas: é testar o máximo de pessoas possível, ligá-las aos cuidados de tratamento, mantê-las nos cuidados de tratamento, fazer uma distribuição ampla de materiais de proteção, tornar acessível o teste a todas as pessoas e disponibilizar a PrEP a todas as pessoas que se sentem em risco. Era importante também distribuir os chamados autotestes pelas comunidades mais atingidas. Há volta do teste há também muito estigma – muitas pessoas não se testam porque têm medo do resultado.
Se melhorarmos a forma como detetamos as pessoas, as ligações aos cuidados de saúde, a rapidez com que as pessoas – depois do teste positivo – têm consulta no hospital. Temos também de manter as pessoas nos hospitais. Depois temos de melhorar a prevenção, para tentar manter a dinâmica de quebra das transmissões.
Como têm evoluído as infeções a nível absoluto, sabendo que, em termos de incidência, somos dos piores a nível europeu?
É verdade que as infeções têm vindo a cair mas temos de melhorar a qualidade dos dados. Neste momento ainda temos os dados relativos a 2018, quando já estamos quase em 2021 [os dados de 2019 foram, entretanto, conhecidos]. Não podemos planear com dados tão antigos. Falta investimento em sistemas de tratamento e recolha de dados, é preciso melhorar o sistema de notificações, que poderia ser melhorado e que tem atrasos enormes. Se formos ver, nos dados de 2018, quantas pessoas foram infetadas, verificamos que os dados mudaram, porque entretanto chegaram mais notificações e já houve mais pessoas infetadas nesse ano.
No que diz respeito à mortalidade, Portugal era, em 2018, o segundo país europeu com mais mortes, só atrás da Roménia.
Acho incrível como, em Portugal, em 2020, ainda morrem pessoas com SIDA. Com toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje em dia, isso não se justifica. Por outro lado, temos um problema muito grande, o chamado Late Presenting, isto é, quando as pessoas são diagnosticadas grande parte delas já estão numa fase avançada da doença (cerca de 50%). Estamos a diagnosticar tarde, quando já há impacto na saúde destes doentes, no seu sistema imunitário e também para a sociedade.
TC/SO